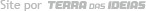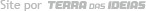|
78 - A Morte de Empédocles
   
fotografias de Paulo Cintra e Laura Castro Caldas A MORTE DE EMPÉDOCLES Primeira versão Friedrich Hölderlin Tradução Maria Teresa Dias Furtado Encenação Luis Miguel Cintra Assistente de encenação Manuel Romano Cenário e figurinos Cristina Reis Assistentes para o cenário e guarda-roupa Linda Gomes Teixeira e Luís Miguel Santos Desenho de luzes Daniel Worm d'Assumpção Selecção musical Nuno Vieira de Almeida Director de montagem Jorge Esteves Construção e montagem de cenário João Paulo Araújo e Abel Fernando Montagem de luzes Elias Macovela e Nuno Meira Operação de luzes Elias Macovela Guarda-roupa Emília Lima Costureiras Antónia Costa, Conceição Santos, Helena Moreira, Maria Barradas e Maria do Sameiro Contra-regra Manuel Romano; Cartaz Cristina Reis Secretária da Companhia Amália Barriga Interpretação Panthea Rita Loureiro Délia Sofia Marques Hermócrates José Manuel Mendes Crítias Luís Lima Barreto Empédocles Luis Miguel Cintra Pausânias Ricardo Aibéo Agrigentino ( Primeiro, Segundo e Terceiro Agrigentinos) João Grosso Escravo ( Primeiro, Segundo e Terceiro Escravos) João Grosso Camponês João Grosso Pianista Nuno Vieira de Almeida Música excertos de duas sonatas de Schubert: Sonata DV 959 em lá maior (opus post.) - 2º andamento - andantino e Sonata DV 960 em si bemol maior (opus post.) – 1º andamento – molto moderato e 2º andamento – andante sostenuto Colaboração de Ana de Carvalho, Maria do Carmo Vasconcellos e Vasco Pimentel Lisboa: Teatro do Bairro Alto. Estreia: 01/03/2001 28 representações Companhia subsidiada pela Secretaria de Estado da Cultura Apoio RDP Antena 1 ESTE ESPECTÁCULO Este texto não fala do nosso tempo. E não fala como se fala no nosso tempo. Fala em verso, com frases longas, como se reescrevesse a Bíblia. Recorda os mitos. Fala em deuses. Santifica a Natureza. Pensa na História. Nomeia a Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade. Põe em cena uma ruptura, uma revolução. O Homem é a única utopia e a generosidade a única lei. Em nada se parece com o tempo mesquinho que vivemos. Passaram só duzentos anos. Arrepia que há tão pouco tempo se pensasse assim. O teatro pode fazer isto, tantas vezes já o dissémos: pôr o passado a falar ao nosso tempo. É esse o prazer que este texto nos dá. Obriga-nos a, no nosso tempo, outra vez vivermos a sua emoção, a estar por dentro de um pensamento que fez progredir os homens. E a acção fica para fora do teatro, entregue à responsabilidade do mundo. "E com a nuvem dourada do luto vos cinja, ó bem-aventurados, a recordação". Porventura a culpa. O remorso. Tão terrível como isso. Este texto é um "Sermão da Montanha". Da fúria de Cristo no Evangelho Segundo São Mateus de Pasolini nos lembrámos muitas vezes. E vem do tempo em que trabalhávamos sobre a sua Afabulação a ideia de alguma vez ler este outro autor. São da mesma estirpe esses dois visionários. Há nos dois a mesma vontade de pensar o trágico, um mesmo amor à condição humana, o mesmo desejo de santidade, a meditação sobre o Natural e a necessidade de viver o confronto do velho com o novo. A Morte de Empédocles, como Afabulação, ambas tragédias modernas à distância de séculos, são despedidas e são histórias de uma pacificação: passagens de testemunho, declínios do poder. Pausânias, o discípulo amado, o leal coração, a alma heróica, é também filho, se bem que menos sexuado, é "filho da minha alma". Só que para Hölderlin a esperança é mais simples, que viveu em tempo de revolução, e Pausânias nasceu "para o dia claro". Alguma complexidade nos trouxe o nosso tempo. Mas gosto da primeira versão do Empédocles que acaba numa cena inacabada, numa virgula, com a cena dos jovens depois da morte do herói. Em tempo que "já não é tempo de reis". Agora é deles a vida. Talvez por isso e pela fragilidade humana do Empédocles da primeira versão, passando, em sofrimento, da culpa para a purificação, a tenhamos escolhido entre as três e a não tenhamos enxertado, como inicialmente pensámos, com trechos das outras duas, talvez mais heróicas. E gosto que o espectáculo acabe no incómodo que agora nos causa o amor cego e sem cautelas pelo futuro, sem mancha de desilusão. Já nos esquecemos do que são almas grandes. Mas são elas que empurram o mundo. É essa cena a mais branca do espectáculo. Essa luz, a luz de Agrigento, com certeza a luz sonhada do sul, capaz de entregar o ser à terra grave e nomeada a cada passo do texto, foi o nosso maior cuidado ao construir um cenário para a tragédia. A "escuridão da gruta", como a sombra que, no momento da morte, cobrirá por momentos a cabeça de Empédocles, essas ficam fora de cena. O palco, o lugar aqui da poesia, é também o lugar da luz. A luz da pura palavra. Como representá-lo? Só o branco e poucos sinais de côr, tão abstractas representações como dizer terra, água, céu, montanha, mar. Uma falsa cortina, um fundo pintado em vez do horizonte. Dois emblemas: os corpos, um coração. Também Friedrich pintava de cór a natureza, fechado no seu quarto. E Hölderlin, louco, pensou muitos anos na Grécia, fechado com um piano na torre alemã de Tübingen. Da música que de vez em quando então tocava, nos lembrámos quando pusémos, além dos recitantes, o pianista em cena. Este lugar apenas evoca. Este teatro não é bem teatro. Ou é o teatro na sua maior abstracção: corpos humanos que proferem palavras diante de outros corpos em cima das tábuas. Só pensamento. Nesse trabalho de apropriação destas palavras até as pensarmos tanto que se tomam emoção, gastámos os dias de ensaio. Até tomar corpo o mais radical artificio. Vestidos de antigos, presos em imagens de há dois séculos, quando estas palavras se escreveram, criando uma distância, paralela à que vai destes fatos ao século V antes de Cristo. E o vulcão, na apoteose adivinhada, é só vermelho. Luis Miguel Cintra
   
|