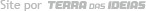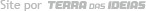|
33 - Grande Paz
   
fotografias de Paulo Cintra e Laura Castro Caldas TRILOGIA DA GUERRA Segunda Parte GRANDE PAZ de Edward Bond Tradução Luis Miguel Cintra, Luís Lima Barreto e José Manuel Mendes com a colaboração de Robert Jones Encenação e cenário Luis Miguel Cintra Figurinos Jasmim Matos com a colaboração de Madalena Pinto Leite Assistente de cenografia Linda Gomes Teixeira Montagem Fernando Correia Iluminação Luis Miguel Cintra Montagem eléctrica e operação de luzes José Eduardo Páris Ponto Laurinda Ferreira e Márcia Breia Costureiras Lurdes Rocha e Antónia Costa Gravação sonora João Coelho, Moreira de Carvalho e Carlos Fernandes Interpretação Cabo Luís Lima Barreto Pemberton José Wallenstein Soldado 1 António Fonseca Soldado 2 Miguel Guilherme Soldado 3 Fernando J. Oliveira Soldado 4 Cândido Ferreira Filho Luis Miguel Cintra Capitão Rogério Vieira Mulher Alda Rodrigues Senhora Symmons Raquel Maria Mulher 1 Márcia Breia Mãe Raquel Maria Filha Laurinda Ferreira Homem Luís Lima Barreto Homem de Meia Idade Gilberto Gonçalves Jovem Miguel Guilherme Apoio de Instituto de Medicina Legal, Dr. Lesseps Reys, Elisabeth Varanda, Antonieta Alvarez, Margarida Brandão, Cristina Soares, Margarida Soares, Orlando Worm, Antena Um e Polícia de Segurança Pública Lisboa: Teatro do Bairro Alto. Estreia: 25/11/1987 Porto: Auditório Nacional Carlos Alberto 54 representações Companhia subsidiada pela Secretaria de Estado da Cultura Apoio do British Council este espectáculo No principio desta Trilogia, no principio de vermelhos, negros e ignorantes subia o pano de ferro do Teatro da Trindade e uma actriz, por trás da máscara da morte recebia o público, presidia à entrada dos actores na cena, um pequeno quadrado de chão sintéticos, uma pequena arena. Essa actriz representava uma personagem: a mãe. Mãe-morte lhe chamámos nós. No fim de grande paz, última peça da Trilogia, a companhia, em silêncio, ouvindo o mesmo concerto de Beethoven que para nós é aquela melancolia da esperança com que acabava a Trilogia 1ª parte, olha um outro espaço, o do Teatro do Bairro Alto, todo novo, onde outro quadrado maior de terra fingida representa o mundo e onde a mesma actriz que no inicio da Trilogia se mascarava de morte, onde a mesma mãe ou outra (“uma cabeça, dois braços, duas pernas, são todas iguais”) deu lugar à morte. Desta vez a ossada verdadeira de um qualquer desconhecido. Não desce o pano de ferro no nosso teatro. O fogo há-de queimar-nos a todos, público e actores ao mesmo tempo. Mas abrimos e fechamos a Trilogia com o mesmo quadrado de terra fingida ocupada pela morte. Entre a imagem de teatro, a máscara, e a ossada verdadeira, representámos um Requiem. Percorrendo o caminho que nos parece levar a escrita de Bond, partimos da frieza da abstracção de vermelhos, negros e ignorantes para chegar ao ponto em que a emoção contamina todo o pensamento e deixamos de ver a vida de longe. Entre um momento e outro falou-se de morte o tempo todo. Para defender a vida com unhas e dentes. E oxalá tivessem essas unhas a força das unhas da mulher do deserto. Oxalá tivéssemos dentes na ponta dos dedos. Entre um momento e outro, aquele quadrado de palco quis ser o palco de todas as vidas, o palco das paixões, da paixão. O palco quis ser o mundo. E quisémos nesse palco fazer pelo menos um momento de silêncio pelos milhões mortos. Silêncio pelos que vão cair. Quis Edward Bond que o palco fosse o mundo tal qual é, o palco da injustiça. É pela justiça que fazemos silêncio. Uma justiça que não sabemos bem como é mas que sabemos que queremos e cremos e sabemos que é filha da verdade e dizemos que é uma mulher de pedra sentada numa sala de pedra a tentar fazer gestos humanos. Entre um momento e outro e entre um discurso teatral, um jogo, como é vermelhos, negros e ignorantes e uma epopeia, com é grande paz, têm pelo menos, várias horas de silêncio. Um texto gigantesco que deixa uma atitude, outra vez uma atitude moral. Desta vez um apego à vida que proíbe todas as fugas, que acredita que é na terra que os problemas da terra se resolvem, que nos obriga a viver a esperança, ou pelo menos a luta. Com uma brutalidade, uma grosseria, se quiserem, uma violência “operária” que é tão diferente da que havia noutro Requiem, noutro nosso trabalho, a nossa Trilogia Strindberg. Não é fechado em casa, nem nos nossos amores, nem nas zonas mais fundas da cabeça de cada um que, para Bond, o destino do mundo se joga. É nos grandes espaços, é em plena rua, na parada de um quartel. O destino do mundo é o que os homens dele fizerem. “Os mortos não podem responder. Faziam era perguntas.” grande paz é um texto sem medida, nesta violência. Uma epopeia do nosso tempo. Nele está o pavor do mundo que no início de vermelhos, negros e ignorantes se diz que a criança no ventre sentiu quando quis fugir ao mundo. Mas a carne explodiu e atirou-a para a fornalha ardente da vida, da “minha casa”. grande paz tem a coragem de transformar o palco outra vez no mundo inteiro. Tem a coragem de ainda falar de todos os homens. De pôr em cena um herói, uma mulher, uma mãe, de lhe inventar uma viagem, como a de Ulisses. Só que o herói não tem nome! Só que nos tempos em que vivemos a viagem é à volta de um lugar. Já não há mar. Diz a Mulher que pensou ouvir o som do mar mas era o som que os ossos faziam nos buracos do cimento. E a Mulher de grande paz torna-se também na figura do nosso pensamento (“Até aposto que sempre foi estéril” diz-lhe o ex-soldado Pemberton).Às voltas, às voltas, a remexer com uma colher numa malga vazia, roídos pela guerra que já entrou por nós dentro. Diz também a mãe de vermelhos, negros e ignorantes: que de repente o mundo tornou-se num quarto de brinquedos. As casas eram casas de bonecas. “As coisas pequenas tornaram-se grandes e as coisas grandes desapareceram”. Lembramo-nos de Shakespeare. Quando nasceu o teatro. O teatro pode representar assim o mundo. o mundo na nossa cabeça. E o mundo é agora um quarto de brinquedos. E o nosso quadrado de palco é um quarto de brinquedos. Agora a bomba vive connosco. No pensamento. E o teatro em que reconstruímos o mundo, o quarto de brinquedos que teimamos em tornar mundo, torna-se num lugar de morte. Agora matamos os nossos filhos. também isso que diz o início da Trilogia, com a lucidez do momento final. E vive quem? Vive o assassino? Morre quem pensa? Seja como for, é um quarto de brinquedos que aqui têm. Um lugar. Um palco, sem artifícios. O mundo. Uma mulher: um herói. Positivo? Entre a esperança ingénua da gente da nova comunidade e o peso da culpa da nossa mulher não sei quem escolhe o quê. Mas num caso ou noutro um enorme, um enormíssimo apego às coisas que os computadores esqueceram: o coração. E a luz. Coisas ineficientes. Inúteis. Ao contrário daquele trapo que uma mulher sem nome embala como filho, aquela ilusão. Matamos os nossos filhos. Por uma vez contamos uma história. Havia duas crianças. E um soldado. Duas mães. Depois caíram as bombas. E uma, ou as duas, continuaram. Depois outros, não sabemos se os mesmos (que importa?), continuaram. Uma delas não teve esperança. O filho morreu. Contamos uma história mas suspendemos a História para fazer um momento de silêncio. Para reflectir. Este espectáculo é só isso. Um momento de tréguas. Mas temos uma mão preta e outra branca. “Nem um bocadinho passa de uma para a outra. Nem um bocadinho desaparece”. O mundo está dividido. Vivemos só a contradição. Louvamos a vida. Mesmo que não faça nenhum sentido. Luis Miguel Cintra
   
|